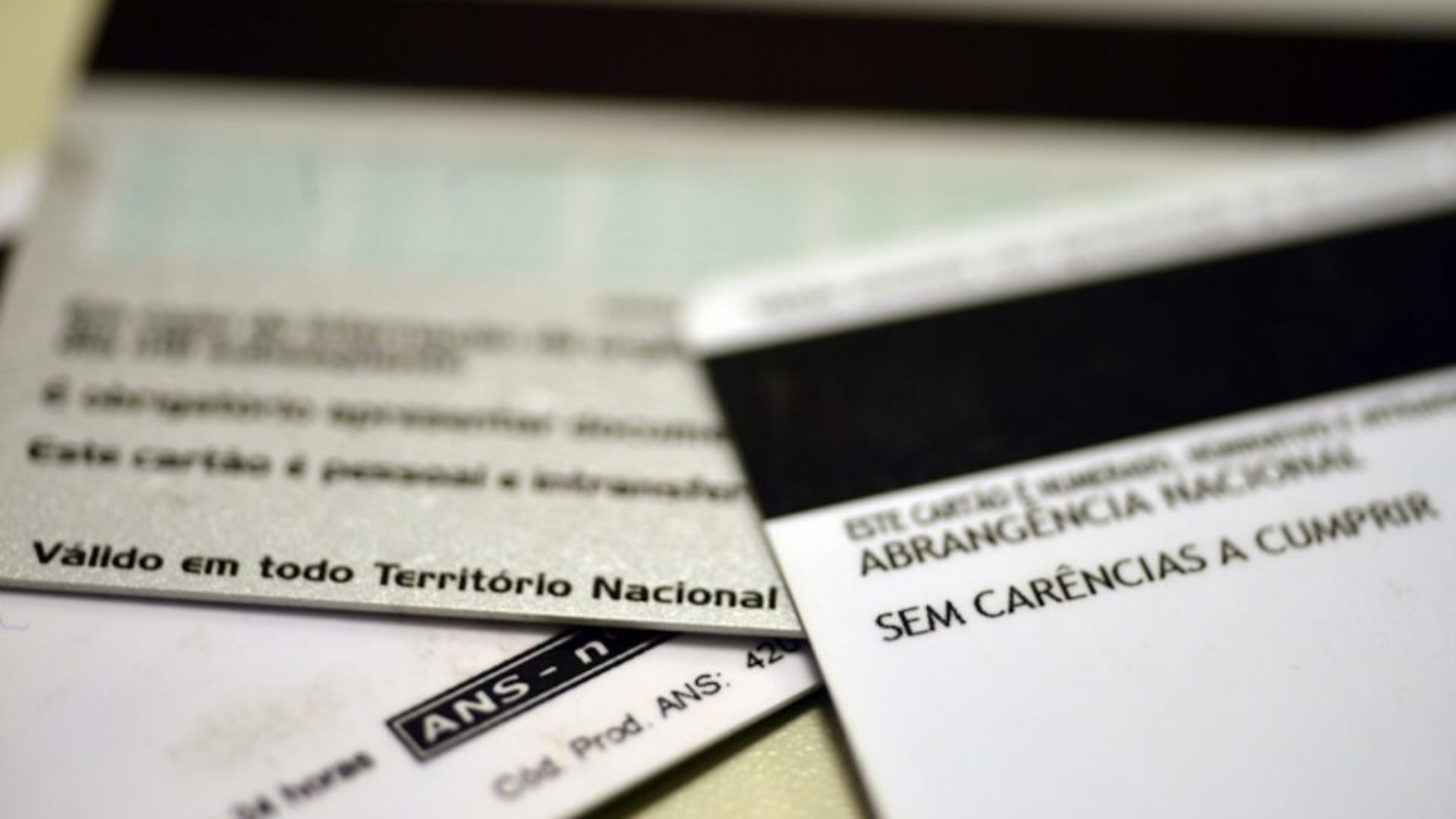A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, para efeitos da proteção da Lei 8.009/1990, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor – ainda que ele não more no mesmo local –, apenas podendo ser afastada a regra da impenhorabilidade do bem de família quando verificada alguma das hipóteses do artigo 3º da lei.
Por unanimidade, o colegiado reformou acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em processo de cumprimento de sentença promovido por cooperativa de crédito, deixou de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por considerar não se tratar de bem de família.
No recurso especial, a devedora alegou que o imóvel objeto da constrição é o único de sua propriedade e foi cedido aos seus sogros, devendo ser reconhecida a sua impenhorabilidade como bem de família. Ela acrescentou que reside de aluguel em outro imóvel.
Proteção da Família e Dignidade da Pessoa
O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, explicou que a Lei 8.009/1990 foi editada com a finalidade de proteção da família e, sob o espectro do princípio do patrimônio mínimo, proteger a dignidade da pessoa humana. O ministro comentou a qualificação do imóvel como tal o subordina a um regime jurídico especial, não o submetendo às obrigações do titular de direito subjetivo patrimonial, ressalvadas algumas exceções legais.
Segundo o magistrado, a legislação determina que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, sendo que, na hipótese de o casal ou a entidade familiar possuir mais de um imóvel utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor.
Bellizze acrescentou que, para a jurisprudência do STJ, o fato de o único imóvel não servir para residência da entidade familiar não descaracteriza, por si só, o instituto do bem de família, tanto é que se admite a locação do imóvel para que ele gere frutos e possibilite à família constituir moradia em outro bem alugado, ou, até mesmo, que utilize os valores obtidos com a locação desse bem para complemento da renda familiar.
“Vê-se que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a extensão do bem de família legal segue o movimento da despatrimonialização do direito civil, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, buscando sempre verificar a finalidade verdadeiramente dada ao imóvel”, afirmou o relator.
Bem de Família Insuscetível de Penhora
No caso julgado, a turma reconheceu que o imóvel, embora cedido aos sogros, manteve-se com as características de bem de família e, consequentemente, deveria ser considerado impenhorável – caso preenchidos os demais pressupostos legais –, já que, segundo ele, o escopo principal do bem continua sendo o de abrigar a entidade familiar.
“Importante relembrar que o conceito de família foi ampliado e fundamenta-se, principalmente, no afeto, de modo que não apenas o imóvel habitado pela família nuclear é passível de proteção como bem família, mas também aquele em que reside a família extensa, notadamente em virtude do princípio da solidariedade social e familiar, que impõe um cuidado mútuo entre os seus integrantes”, concluiu o relator ao dar provimento ao recurso especial.
Processo relacionado a esta notícia: REsp 1.851.893
Fonte: Superior Tribunal de Justiça (STJ)